• Uma entrevista com Francy Baniwa •
por Grupo Comunicações da Comunidade Selvagem
Desde o início deste semestre, nós, do Grupo de Comunicações da Comunidade Selvagem, temos nos encontrado quinzenalmente para desenhar, juntos, caminhos de criação e partilha inspirados no que o Ciclo de Estudos movimenta em nossas vidas. Para além de ecoar os conteúdos articulados e transmitidos, percebemos que o desejo coletivo apontava para a criação de relações e vínculos, e vislumbramos o blog como um canal por onde transitar o que emerge das experiências de convivência com o Selvagem.
A frente de entrevistas com a constelação Selvagem foi uma das ativações que animou nossos trabalhos. Ela surgiu da ideia de troca direta entre a Comunidade e as pessoas que compartilham seus conhecimentos através de conversas, livros, ciclos, cadernos e outras criações do Selvagem; foi uma das sementes que cultivamos com mais dedicação e esta entrevista é o primeiro florescimento deste cultivo.
Francy Baniwa, conhecida por seu povo como Hipamaalhe, aceitou nosso convite, dando forma ao sonho de coroar o semestre com a publicação de nossa primeira entrevista. Antropóloga indígena rio-negrina, autora do livro Umbigo do Mundo, Mitologia, Ritual e Memória Baniwa Waliperedakeenai – escrito a partir das narrações de seu pai, Francisco Fontes Baniwa -, lançado pela Dantes Editora em 2023 – obra que vem conduzindo os estudos transversais do Selvagem ao longo dos últimos meses.
Nos debruçamos sobre a teia de produções que ecoam da presença de Francy: entrevistas, trabalhos acadêmicos, registros audiovisuais, e, é claro, seu livro. Estamos em diferentes cantos do Brasil e, desde nossas casas, realizamos uma série de encontros virtuais para conversar, interagir com o que Francy nos trazia e também para elaborar um roteiro, já que essa seria a primeira vez de muitos de nós no papel de entrevistadores e de todos nós em uma entrevista coletiva.
Em 20 de junho, dia da conversa, conforme combinado, cada um trouxe um chá para a roda virtual. Abriu-se um tempo e espaço de troca fluida, tempo de convívio. Sentados, sonhamos e navegamos na força das narrativas e presença da nossa entrevistada. Deixamos aqui o convite para que o leitor também pegue seu chazinho, tome tempo e seja embalado pelas palavras dessa grande contadora de histórias verdadeiras e vivas: Francy Baniwa.
Francy Baniwa na Vigília da Oralidade (ao fundo o prédio do Museu Nacional) – Rio de Janeiro – 15 de abril de 2023 | Foto: Juliana Chalita – Acervo Selvagem Ciclo de Estudos
Roberto Straub: Você fala de mitologia viva, de viver uma mitologia viva. Este não é o caso da maioria dos seres humanos no planeta. Antes de você entrar na sala, a gente estava conversando justamente sobre esse lugar da fronteira entre as culturas, o limiar entre saberes e o lugar da tradução de mundos; um lugar onde você está. A gente queria que você falasse sobre esse lugar, enquanto mulher indígena que representa e transmite esses saberes, e lida com questões do masculino e do feminino. Você poderia contar mais sobre esse lugar de tradução entre mundos?
Francy Baniwa: É muito importante falar sobre essas mitologias vivas. Por que são vivas? Por que eu digo isso? Por que eu afirmo com tanta segurança que essas narrativas são vivas? Porque elas, de fato, estão todo dia com a gente. Se eu estou doente hoje – o que é o caso -, o meu pai vai pegar um cigarro, vai percorrer o caminho que o Ñapirikoli fez, que Amaro fez para curar aquelas pessoas de outro mundo, naquela época. Meu pai vai fazer o mesmo percurso que eles fizeram pra me curar dessa doença, que é uma doença do mundo. A gente vivencia isso todo dia, porque não tem como você viver uma vida, tentar querer ser branca; pra mim não vai colar isso, eu não vou sair nesse mundo dizendo: “Estou fora do meu território, isso não vai me afetar”.
Quando eu estou um pouco longe do território, eu fico, digamos assim, acomodada… Porque aí eu não vou pra roça, não vou pra pescaria e estou muito mais aqui em casa, escrevendo. Posso ter um sonho ruim, mas aí eu não vou pro mato arrancar mandioca, eu não vou pegar uma mata virgem com aquele medo de que eu vou ser mordida por uma cobra e que alguma coisa vai me picar; eu fico mais protegida aqui, não vou pegar uma canoa, não vou remar. Então, é nessa transmissão de saberes, nessa troca entre eu e meu pai, entre nós. Nesse caso, a gente tem essa fase de gerações, né? A do meu pai, que recebeu todo esse conhecimento e passou para a gente, pra nós, seus filhos. E ele continua repassando pro meu filho, que é dessa geração. Essa troca, se a gente fosse pensar uns anos atrás, seria impossível, porque teria um momento específico de cuidar desses repasses.
A questão do repasse era muito rígida, porque você precisava fazer parte daquele grupo de sábios para poder adquirir essas narrativas. Eu me lembro muito bem do meu pai falando que ele era um menino muito curioso, e aí tinha os tios, os avós, que eram grandes conhecedores, xamãs e só quem era permitido a estar nessa roda ouvindo essas narrativas era alguém já mais crescido, que já tivesse autorização para ouvir aquela conversa dos mais velhos. E ele foi tão insistente! Sabe aquele curumim que fica em volta, dizendo:”Pode ir?”. Ele estava lá e, um dia, o tio cansou de ver e perguntou: “Você quer mesmo fazer parte?”. Ele falou que sim, aí o meu bisavô pegou um cigarro, fez todo o benzimento de falas cantadas, pedindo autorização para que ele pudesse fazer parte daquela troca. Era uma roda de conhecedores, de maadzeros, que já conheciam outros mundos através dos benzimentos. E meu bisavô pediu pra ele fumar e soprou o cigarro nele; ele estava permitido a aprender essa questão da oralidade. E é uma coisa que eu acho muito linda, essa permissão de alguém fumar; quem fumava antigamente eram somente essas pessoas que dominavam esse conhecimento, essa sabedoria. Hoje isso mudou muito… Hoje os jovens fumam, mas sem ter esses conhecimentos. Eu me sinto muito privilegiada de receber essas informações e de o meu pai conseguir quebrar esse tabu.
Francy e Francisco Fontes Baniwa | Foto: Mariana Rotili – Acervo Selvagem Ciclo de Estudos
Meu pai, Francisco Fontes Baniwa, sempre diz: “Eu tenho filhas, eu tenho filhos, então vou compartilhar com eles toda a minha sabedoria e o que eu entendo dessas narrativas”. Ele fica preocupado e diz pra gente: “Eu quero transmitir, eu quero passar, porque vai que um dia eu morro e aí eu vou levar toda a sabedoria comigo? E eu quero que toda essa sabedoria que eu aprendi fique com vocês também, que vocês possam fazer esse repasse dessas narrativas, dessas vivências, dessas interpretações”. Isso é raro hoje.
Eu acho que essa questão do contato com os missionários afetou muito o repasse de conhecimentos. Alguns anciãos são da mesma idade que meu pai, mas infelizmente não têm mais esse conhecimento todo de narrativas, então os filhos também vão crescer sem ter esse conhecimento. Então, eu estava com essa preocupação toda: “Precisamos escrever, porque a juventude precisa desse contato com a narrativa, seja na língua nheengatu, em português, em baniwa, mas que possa ter essa inspiração de diálogo entre filhos e filhas”.
A gente já não está mais na época de dizer não pra isso… Acho que essa questão do patrilinear ficou um pouco para trás, porque acho que, se eu pegasse essa geração do meu pai, com certeza eu saberia apenas coisas que as mulheres fazem: cuidar da roça, cuidar do filho, limpar peixe. Mas eu estou nesses dois mundos, tanto de narrativas, quanto dos cuidados da roça. Eu domino esses dois mundos. E se eu quisesse ir mais a fundo: cantar, benzer… Com certeza eu faria. Eu tive essa liberdade de escolhas.
Eu também quero ser contadora de histórias, não de histórias imaginárias, mas narrativas verdadeiras, vivas. Porque você não pode falar de nenhuma narrativa sem pensar nessa transformação toda do processo de criação de cada detalhe, de cada pássaro, de cada objeto, do mundo que foi pensado e criado. Porque tudo foi projetado, nada foi forçado… Apesar de vinganças, desavenças, mortes, tudo isso aconteceu para que esse mundo pudesse ser o que é hoje. Eu gosto de pensar que a nossa vida é impossível se você não tiver esse contato com esses outros mundos de narrativas que, às vezes, você acha: ‘É uma narrativa que está há muito tempo, está longe, nem faz parte do meu mundo”. Mas, pelo contrário, você é a própria narrativa viva. Você é a própria cosmologia viva, passada através de rituais, cantos. Você pode até achar que tudo o que sabe é porque seus pais criaram, pensaram, mas não, tudo foi criado por Ñapirikoli e Kaali. São eles próprios, vivos nesse território. Você não tem como fugir disso. Você é uma descendência, é nato dessas narrativas. Você conhece o seu território; você sabe que se você fizer algo, você pode ser punido. Essa é a firmeza da importância de elas serem vivas hoje.
RS: Francy, no seu caso, essa permissão foi algo que seu pai te concedeu ou foi uma iniciativa mútua?
FB: A gente já cresceu nessa leveza de muita sabedoria. A gente viveu com as nossas avós, nunca tivemos contato com o avô paterno, perdemos ele muito cedo. A nossa base do conhecimento, da prática do dia a dia, esse convívio era com os meus avós maternos. O lado de narrativas e de regras foi muito com meu pai e em nenhum momento ele falava: “Não, Fran, você precisa pegar o caderno e escrever”. Ele deixou cada um ter o interesse próprio de perguntar. Ele é muito disso: “Eu sei de tudo, mas se você não vier atrás de mim, eu não vou dizer. Eu estou aqui, me usa, me aproveita”, porque ele é muito assim… de falar, compartilhar. Mas se você não tiver o interesse de querer aprender mais, entender mais o que significa, ele só conta. A gente já veio nesse contexto de muita sabedoria. A gente ia pra roça, algo acontecia e ele imediatamente ia para as narrativas: “Não, Ñapirikoli fez isso naquela época, por isso que aquilo aconteceu…”. A gente sempre esteve em contato com essas traduções, com essas interpretações.
“Mas eu estou nesses dois mundos, tanto de narrativas, quanto dos cuidados da roça. Eu domino esses dois mundos. E se eu quisesse ir mais a fundo: cantar, benzer… Com certeza eu faria. Eu tive essa liberdade de escolhas.”
Até então eu não ficava atenta ao fato de que tudo o que a gente vivia fazia parte dessas narrativas. Eu fui entendendo isso com muita clareza a partir do momento que eu mergulhei na criação do livro. Eu vi que tudo o que eu estava aprendendo e vivendo era de outros mundos, não era deste mundo. Eu percorria outros mundos, mundo pequeno e mundo dos eenonai, de outros povos, de outras pessoas…. E aí eu entendi essa importância da cosmovisão, de outros mundos invisíveis e de que, naquela época, já havia coisas invisíveis. Hoje eles continuam de alguma forma invisíveis, mas é uma coisa muito real e verdadeira.
Com o tempo a gente foi perdendo as pessoas que dominavam esse conhecimento, os grandes xamãs. Meu pai conseguiu viver com essas pessoas e eu consegui vivenciar com alguns sábios. Com o meu avô a gente teve contato. Ele morava com a gente, chegava, descia e pernoitava em casa e a gente passava por esse processo também, processo de cura, de regras, de o que você pode comer ou não pode comer quando você está doente. Tudo isso depende muito do tipo de doença, então ele já determinava, como um médico indígena que te cura com essa sabedoria que ele tem, com esse contato com Kamathawa, que é o gavião real, que é o espírito xamânico, com a onça, que é o espírito xamânico. Eu ficava muito curiosa e perguntava: “Mas como assim? Me explica melhor isso”. E ele ia explicando…
“Até então eu não ficava atenta ao fato de que tudo o que a gente vivia fazia parte dessas narrativas. Eu fui entendendo isso com muita clareza a partir do momento que eu mergulhei na criação do livro. Eu vi que tudo o que eu estava aprendendo e vivendo era de outros mundos, não era deste mundo. Eu percorria outros mundos…”
Teve um momento de lançamento de livros de narradores indígenas do Alto Rio Negro, escrito pelos antropólogos não-indígenas. Meu pai lê – ele lê muito, acho que ele lê até mais do que eu -, e ele falou que aquele livro estava incompleto, que precisava de uma revisão para que pudesse ser algo compreensível. Senti, de alguma forma, ele dizendo: “Você vai ser responsável por escrever, por explicar…”. Senti essa responsabilidade de que eu poderia fazer algo. Foi quando fiz graduação, terminei a graduação e fiquei com essa vontade de querer ser antropóloga, até porque quem estava na região eram antropólogos. Eu coloquei na minha cabeça que, se eu fosse antropóloga, eu iria escrever esses textos, e não demorou muito para ingressar no Museu Nacional. Passei no mestrado em 2017 e foi um dos grandes desafios, porque eu não imaginava que escrever em português era tão difícil. Eu estava falando de coisas que você não aprende em português.
A escrita não é uma coisa minha, sou mais da oralidade. Porque falar as narrativas na própria língua é outro mundo, outra relação. E falar, escrever isso em português, você sente “Caramba, não é isso! Essa tradução não está boa”. Então, voltei já com isso: “Vou escrever as narrativas e vou a fundo para transcrever as narrações, vou explicar”. Só que aí eu comecei a ver que tudo estava conectado, que para tudo havia uma explicação, que para tudo havia um argumento: porque os meninos são danados, porque eles correm para lá e pra cá… Que a tartaruguinha é uma tartaruga porque eram os meninos que ficavam ali, nas pedras, se esquentando e depois se transformaram em tartarugas. Aí quando eu vejo hoje uma tartaruga, eu vou lá nessa narrativa e falo: “Caramba! Eles eram humanos, eles eram meninos”…
A nossa relação é direta com o território. Porque não tem como você não falar do território, parece que você é o próprio território. Parece que você era uma pedra e se transformou em humano, você era uma árvore e hoje você é humano, você era uma cutia, um tatu e hoje você é humano. Essas vidas do passado que a gente já fez parte e esse processo da tradução da oralidade é algo muito forte. Como essas danças, esses benzimentos que são cantados, eles têm uma melodia, não são apenas falas cantadas: é uma luta, é uma guerra, uma guerra com palavras. Eles estão aí, guerreando por um pote, porque aquele pote de cerâmica é um ser poderoso, maléfico. É uma peça? É uma peça, mas, naqueles mundos, ele é o ser que eles estão matando para que aqueles meninos possam comer o que tem dentro, e que aquilo não faça nenhum mal. É uma luta que estão fazendo e é um ritual, é uma festa. Por isso a importância de cada fala cantada desses rituais. Hoje eu vejo essa importância de chegar a outras pessoas para que elas possam entender com clareza o que é ser Baniwa, o que é ser outros povos, essas especificidades das origens do mundo de cada povo; que cada povo tem a sua forma única de explicar aquele território e que o nosso território não é só o Alto Rio Negro. O nosso território é o mundo todo. Não é só aquele lugarzinho do Alto Rio Negro, é o mundo todo que a gente percorre. Se a gente for analisar esse contexto de territórios, as importâncias desses territórios, a gente não teria uma delimitação, porque sempre fez parte de onde a gente viveu, eles vivenciaram, onde houve mortes.
Eu acho que essa transmissão entre pai e filha foi um interesse meu, como mulher. Tenho irmãos e o meu pai sempre fala que ele vê a falta de interesse dos meus irmãos em querer aprender o benzimento ou em querer tocar instrumentos. Esse livro é porque eu quis, de fato, registrar a sabedoria dele, que é a metade da sabedoria que ele passa, não é tudo o que ele sabe. Eu quis levar e mostrar que a gente tem uma própria ciência indígena para explicar a existência do mundo, explicar essa oralidade e como ela é muito rica de existência, desse mundo, desse planeta que não é só do ser humano; existem milhões de insetos, aves, peixes, animais, florestas, pedras… Cachoeiras que não são cachoeiras, que são grandes armadilhas de pesca, mas que, quando você vê, é uma cachoeira, mas não é. Era uma grande armadilha que Ñapirikoli deixou para matar a serpente. Ele foi criando o território assim. Se você não conhecer essas narrativas, você vai ver uma cachoeira e vai achar “Caramba, uma cachoeira linda!”, mas não é uma cachoeira, é uma armadilha e tem uma explicação pra tudo isso.
“Eu estava falando de coisas que não se aprende em português.”
RS: Francy, a gente vai querer falar um pouco mais sobre essa questão da tradução, que é muito importante, mas antes vamos ficar um pouquinho mais no feminino? A Mariana vai compartilhar um trecho do livro que a deixou curiosa e que gostaria de aprofundar, tá bom?
Mariana Rotili: É a página 15, no finalzinho: “Fui crescendo, passei pelo ritual de iniciação feminina, levei surra nas costas, recebi conselhos, tenho Kamara (que em baniwa significa ‘segunda mãe’; a minha se chama Júlia, esposa do meu avô Hermes Plácido). Quem fez o benzimento do meu Kalidzamai foi o meu avô Hermes Plácido, do clã Waliperedakeenai; passei por tudo e, ao longo dos anos, ouvi relatos sobre as narrativas, seus acontecimentos e significados”. Eu circulei essa questão da Kamara, da segunda mãe. Você poderia falar um pouco mais sobre como é feito, se é um reconhecimento entre mulheres…Como se dá esse encontro?
FB: A Kamara é escolhida pelos pais ou pela mãe. Numa tradução para esse mundo, é como se fosse madrinha. Quando você se batiza na igreja ou em outras religiões, você tem alguém como uma figura materna também, uma pessoa que vai te aconselhar quando você fizer algo de errado, que vai te ajudar. Se você precisar, você pode recorrer a essa pessoa; ela é muito importante, é como se fosse a sua mãe. Quando você está no ritual, você está num momento muito delicado, frágil, porque é o momento que você vai aprender muitas coisas: você aprende a ser uma mulher, mulher trabalhadora, mãe, filha, neta… Você ganha uma grande responsabilidade, e ganha mais uma pessoa na sua vida. Então, no caso meu, foi a minha mãe que escolheu uma das mulheres com mais idade na minha comunidade, uma das guardiãs desse lugar.
O meu avô Hermes é um grande maadzero de benzimento. Você não escolhe a pessoa porque tem casa bonita ou porque vai te proporcionar roupas, sapato… Ela vai te proporcionar sabedoria, vai te passar muitos conhecimentos, vai te guiar pelos caminhos que você precisa passar e aprender. Ela é como se fosse uma avó para você, uma segunda mãe, porque as avós praticamente são a nossa segunda mãe, né? E, a partir daquele momento, você acaba ganhando mais uma pessoa; ela te pinta no ritual, é ela quem vai te deixar bonita com a seiva que é colada no corpo; ela é quem vai aplicar as penas – aquelas bem fofinhas, de gavião, como se fossem algodõezinhos – no seu corpo. Ela que te pinta com crajiru, uma pintura nossa que a gente usa. Ela é quem vai ser a responsável por organizar o ritual de iniciação e vai estar todo tempo com você nessa preparação, vai pegar no teu braço, vai te levar e vai pedir para você sentar. Ela vai estar ali perto de você até para você não cair na tentação e comer alguma coisa.
A minha Kamara está viva até hoje, ela já é uma senhora com muita idade e ainda está viva. É uma valorização de pessoas que têm muito conhecimento. Acho muito bonito, porque aí quando você tem algo, farinha, peixe ou fruta, você leva para essa pessoa e quando ela tem, ela traz para você também. Essa troca que se tem com uma figura materna, mesmo, de compartilhar com você o que ela tem e você, por sua vez, compartilhar com ela tudo o que você tiver e o cuidado também. Os homens também têm essas pessoas. As pessoas que pintam os homens são as responsáveis por pintar os meninos para ir para o ritual. Cada família escolhe alguém para dar conselhos para essa pessoa. Acho que um dos momentos mais importantes é essa troca, de você ganhar alguém que não é da família, alguém escolhido, mas sempre é avô ou avó.
MR: Com os meninos tem um homem que cumpre esse papel?
FB: Não, também é mulher.
Zih Zahara: Tem um trecho do livro em que você fala que o seu pai propôs o desafio de você passar por um ritual masculino. A partir disso e do que você estava falando até então, eu fiquei pensando… Eu te vejo como água, permeando espaços antagônicos nesse mundo fora da aldeia. Queria saber se você se vê, de alguma forma, nesse lugar; se você se vê em algum mito, se identifica com algum? Existe isso pra você? Assim como você falou de uma segunda mãe, que te passa ensinamentos e em quem você se inspira, tem também alguma figura, elemento ou mito que te inspire? E, não sei se isso é possível, mas você se imagina criando novos mundos?
Francy e seu pai, Francisco, em atividade do grupo Crianças Selvagem no MUHCAB (Museu da História e Cultura Afro-Brasileira), parte do Ciclo Memórias Ancestrais em abril de 2023 | Foto: Mariana Rotili – Acervo Selvagem Ciclo de Estudos
FB: Muito bom isso. Acho que é um questionamento que eu tenho feito bastante. Até porque os animais sagrados nunca foram dos homens, eles nasceram da mulher, fazem parte da gente. Esse roubo aconteceu quando Amaro deu à luz ao seu filho, que é Kowai, o dono dos animais sagrados. E você vê essa mensagem, essa intervenção masculina nesse mundo, e vê que não era para ter acontecido isso. Acho que é o primeiro roubo, a primeira violência que nós sofremos. Dentro dessa narrativa é muito clara essa não escolha; alguém pensou por nós. E, então, como não querer de volta o que é nosso?
Essa foi a luta que Amaro fez para tentar recuperar esses animais sagrados – o filho dela -, se apropriar disso e trazer esse animal sagrado para ser cuidado por ela, sua mãe. Mas isso não é possível e aí acontece essa luta, essa guerra entre Amaro e Ñapirikoli. Essa perseguição dos homens em querer o que é nosso. Eu questiono: “Como que não é nosso, se nunca foi deles?”. Ñapirikoli não pariu Kowai. Tudo foi pensado e nós não fomos consultadas se era isso mesmo o que a gente queria, se era isso que Amaro queria.
Quando faço uma análise disso hoje, como antropóloga, vejo que muita coisa foi pensada por nós, em nosso lugar. A gente sofreu uma violência psicológica, mas também no corpo físico. Tanto que, depois que Ñapirikoli matou Amaro, depois que ele conseguiu de volta os animais sagrados, ele fez uma reza para que as mulheres esquecessem a aparência desses animais sagrados. Ele mexeu com o nosso corpo, mexeu com a nossa cabeça, fez um feitiço para que a gente esquecesse das aparências. O efeito desse ato mexeu com a gente nesse mundo, nessa questão do raciocínio, de não pensar muito bem… Às vezes dá um nó na cabeça e você esquece. Ele virou nosso coração de cabeça para baixo para que a gente não se lembrasse da fisionomia desses animais sagrados.
Eu acho que ouvir essas narrativas, mergulhar nelas, faz entender com clareza o papel e a figura desses guardiões, desses responsáveis pela criação do mundo. Acho que Ñapirikoli foi muito machista em não querer que Kowai voltasse para os braços da mãe, para que pudesse ser dominado pela figura feminina, pelas mulheres. Isso foi guardado a sete chaves desde essas transformações do mundo pequeno, do eenonai, do hekoapinai. Quando ele reencarnou para voltar na forma que está hoje, ele foi entregue para os homens e também passou a ser cuidado pelos homens.
Às vezes eu me pergunto: “E se fosse o contrário?”. Se a gente fosse resistente até o final, será que eles ficariam pra gente? Qual seria o mundo hoje? Eu gosto de pensar nessas outras possibilidades. Eu questiono meu pai. Eu discordo com algumas narrativas, porque acho que ele foi injusto, foi escroto com a gente. Então, essa revolta, essa dor, às vezes, com a narrativa que está aí mostrando a questão do machismo… “Como assim ele tomou uma atitude sem nos consultar? Ele nem considerou se a gente iria concordar com isso ou não…”. Então, é muito bom a gente se questionar e dizer “Não! E se fosse o contrário, o que seria? Como seria?”.
Foi quando meu pai disse que eu teria essa abertura de ser uma porta-voz para outras mulheres. Aí eu me pergunto: “Eu estou preparada pra isso? É isso que eu quero? O que outros Baniwa achariam disso?”. Aí vem essa insegurança, pois tem quem diz: “Ela está querendo ir porque ela é antropóloga, não está mais obedecendo o que era”. Aí vem todo o questionamento de possíveis comentários que alguém faria. O meu pai está aberto e fala: “Você pode, mas aí depende de você”. Só que como eu já sei que o ritual de iniciação masculina é muito rígido, eu penso: “Eu estou preparada para encarar esse ritual?”. O corpo de mulher não é frágil, mas os corpos dos homens são preparados para isso a vida inteira. Eles vão pescar à noite, é chuva, é sol, é peso… E o meu corpo não está preparado para isso. O meu pai falou: “Ah, mas você não faria tudo isso. Você estaria aí, acompanhando, mas você não entraria diretamente em tudo que a gente faz”. Então eu fico parada e penso: “Um dia, quem sabe…”; e vem essa outra responsabilidade também.
Seria muito lindo poder ser, de fato, porta-voz para dentro e para fora. Porque eu poderia estar lá e voltar para contar. Eu poderia transitar nesses dois mundos, eu poderia conhecer. Mas eu estaria lá, também, com as mulheres. O meu pai vê esse lado do meu papel como mulher dentro do ritual. É lindo você pensar que é um grande ritual. Creio que um dos mais importantes é o ritual de iniciação masculino, o mundo desse outro universo. E como elas, as narrativas, estão vivas, são muito presentes. Eu digo que eles são privilegiados por conhecerem esses outros mundos, por estarem em contato com alguém que um dia já foi uma única pessoa e que se transformou em muitas coisas. Que privilégio os homens têm de estarem diretamente com os seres que são de outros mundos, que têm poderes incríveis. De cuidado, mas também de morte. Então, essa preparação do corpo, esse contato direto, não com uma narrativa, mas com essas narrativas presentes, vivas, agindo e protegendo eles nesse momento com essas vozes surreais, não sons de flautas, de vozes mesmo. Vozes deles, desses animais sagrados.
Apesar de eles não estarem mais com a gente hoje, é lindo você ver que eles estão nos protegendo, também, como mulheres. Porque quando você está grávida, você pede o remédio e eles te dão para você não sofrer, para você parir como um animal. Dizem que quando a fêmea do veado dá à luz, ela não sente nem dor, sai na hora! Então, ele te dá o remédio. Esse momento do ritual é uma coisa bonita; apesar de não estar nas nossas mãos, sendo cuidada por nós, mesmo assim eles estão nos protegendo como mulheres, dando o remédio que é deles, que é de outro mundo; remédio mesmo. Eles são humanos e animais e os próprios corpos deles são cura, são proteção.
Soraia Terra: Eu queria dizer que me sinto tocada em lugares muito profundos ao ouvir essas narrativas, ao te ouvir, Francy. E quando você fala desse lugar entre mundos, me vem uma pergunta: “Por que essas narrativas mexem profundamente com os nossos sonhos?”. Nós, que não somos da sua aldeia, mas que também constituímos uma aldeia planetária, vamos dizer assim. Porque essas narrativas mexem. Pelo menos com os meus sonhos elas mexeram muito. Me fizeram lembrar de lugares da minha infância, das relações com meus parentes e eu fiquei pensando: “A Francy está realizando os sonhos dela, tanto os sonhos na aldeia quanto sonhos nesse ambiente da cidade.”. Teria mais algum sonho que você ainda sinta no seu coração de realizar? Tanto um sonho que permeia esse lugar da aldeia, quanto um sonho que permeia também esse lugar da academia e da vida na cidade?
FB: Ah, que bonito. Muitos sonhos… Um dos sonhos é exatamente isso: dar um retorno para os Baniwa. Mas acho que isso é uma das metas. Sonho em o povo conhecer o território, saber dos grandes desafios de ser do Alto Rio Negro, de ser rionegrina. Acho que, além de tudo isso, é dar um retorno para aquele povo que está aí com essa vivência muito viva. Você vê essa grande responsabilidade de ser alguém porta-voz daquele território, abrir conhecimento para outros lugares, de levar essas interpretações, de levar essas narrativas, de explicar isso: o que é ser uma mulher Baniwa? O que é parir uma criança? O que é ser dona de roça? O que é ser mulher que domina toda essa sabedoria feminina? Por que a gente não é frágil? Por que a gente é tão forte? A gente não se vê nesse lugar de fragilidade, sabe? Acho que um dos sonhos… Bom, acho que eu nunca cheguei a pensar que eu poderia publicar um livro. Já foi difícil sair do território, sabe? Já foi difícil sair de um território que era muito machista, em que diziam: “Ah, não! Vai estudar? Não vai conseguir não. Daqui a pouco está de volta”. Esse lugar das mulheres serem vistas com falta de confiança, pois acham que só quem pode estudar são os homens. Esse peso, essas críticas que você recebe, elas te dão mais força para continuar e mostrar para outras mulheres que é possível; é possível você ser mãe, é possível você ser pesquisadora.
Mas acho que, além de tudo isso, é você motivar outras mulheres. Quando eu vim para cá, em 2017, já tínhamos pesquisadores e antropólogos formados de outras áreas, mas era muito na questão dos homens, sabe? Eu fui a primeira mulher a entrar; a primeira rionegrina entre 23 povos e três municípios. Isso foi em 2017. Foi a primeira entrada de alguém do território ocupando espaço no Museu Nacional. Fui a primeira mulher Baniwa a sair do território para fazer mestrado. Foi um grande ‘quebrando o tabu’ e hoje acho que um dos sonhos é exatamente isso, mostrar para as mulheres que elas são capazes de sonhar, crescer e de querer ser o que elas querem ser, além de cuidadoras de roça, além de parteiras, mães… Que elas têm esse poder de escolha hoje.
“Você vê essa grande responsabilidade de ser alguém porta-voz daquele território, abrir conhecimento para outros lugares, de levar essas interpretações, de levar essas narrativas, de explicar isso: o que é ser uma mulher Baniwa? O que é parir uma criança? O que é ser dona de roça? O que é ser mulher que domina toda essa sabedoria feminina? Por que a gente não é frágil? Por que a gente é tão forte?”
Então, a gente acaba não sendo apenas uma pesquisadora, você acaba sendo uma referência. Essa é uma das responsabilidades que mais pesa para mim, como mulher: “E aí, e se um dia eu falhar?”. Um dos sonhos é exatamente esse: escrever mais sobre mulheres, mostrar essa potência de mulheres dentro da academia. Porque não é só a academia, em si. Não é só um tema a ser falado. São vários temas que estão interligados uns aos outros.
Francy Baniwa | Foto: Mariana Rotili – Acervo Selvagem Ciclo de Estudos
Sonhos são muitos, mas acho que, às vezes, eles acabam ficando pra trás por falta de acesso e condição mesmo. Eu estou hoje aqui, onde estou, porque eu quis de verdade estudar. Se não fosse por isso eu já teria desistido há muito tempo. Ter pais agricultores e artesãos é o mais difícil, e o território também. A gente atravessou o Brasil para estar aqui; para retornar é uma semana de viagem… é muita determinação, mesmo. Mas, acho que o primeiro passo era exatamente esse: escrever sobre esses conhecimentos, sobre essas narrativas de dentro para fora. A gente entende essa narrativa dessa forma, porque a importância dessa narrativa é isso. Acho que a minha determinação e vontade era dizer: “A gente pensa isso, a gente vivencia isso, por isso, por isso, o corpo, o território, a presença de outros seres…”. E eu me senti muito realizada com esse resultado. Penso: “Caramba, como uma mulher conseguiu fazer uma dissertação em diálogo com o pai?”. Esse já foi um avanço para quebrar essa questão do patrilinear. Eu provo que somos capazes, sim, de ter esse diálogo entre pai e filha. Ocupar esses espaços e mostrar para outras mulheres que a gente precisa ter essa conversa com os nossos pais, com os nossos avós, com os avôs… Aproveitar essa riqueza de narrativas, porque eles têm uma interpretação de outros mundos, uma outra experiência, uma outra fase. Não adianta a gente ter só o nosso entendimento; essas trocas enriquecem a gente. Como é linda essa forma de transmissão de conhecimento, e como é importante essa oralidade. É muito lindo e eu me pergunto: “Como assim vocês gravaram tudo isso?”.
A gente não tem nada de manual escrito, não temos nenhuma receita, é muito no olhômetro. Tanto de frutas, do tempo, da estação. Você conhece o seu território na palma da mão. Não é como na cidade grande. Para você sair, você precisa colocar no GPS pra você chegar ao ponto. Não. A gente já sabe até onde está, quanto tempo vai levar, qual horário. A gente domina nosso território como domina essas narrativas. Porque já está no nosso corpo, já está na nossa vivência. E um dos sonhos que eu tenho hoje é levar o conhecimento das mulheres adiante. Eu quero falar sobre os saberes femininos, incluindo as vivências de hoje e falar sobre as narrativas, também, mas mais focada no saber feminino. Agora eu quero ouvir delas. O que elas têm a dizer sobre tudo isso. Agora eu quero dar o espaço para as mulheres falarem. Por que a gente cuida tão bem da roça? Quem ensinou elas assim? Por que elas são tão guerreiras? Por que é que elas nunca desistem de ir? Trabalhar na roça é muito difícil! Por que elas nunca pensaram em desistir da roça? Porque elas são boas em tirar formigas que são temperos para a caldeirada de peixe? Por que aquela madeira específica é para tirar aquela formiguinha? Como elas sabem disso? Como que elas sabem que aquela maniva não quer ser plantada e quebrada na hora? Como elas descobriram que a mão tem poder de escolha? Quem ensinou pra elas, quem orientou elas?
“Você conhece o seu território na palma da mão. Não é como na cidade grande que, para você sair, você precisa colocar no GPS pra chegar ao ponto. A gente já sabe até onde está, quanto tempo vai levar, qual horário. A gente domina nosso território como domina essas narrativas. Porque já está no nosso corpo, já está na nossa vivência.”
Agora, na tese, eu quero falar e levar esse saber feminino. Por que elas não se cortam na hora que elas estão limpando uma paca, um peixe? Por que elas são e fazem mil coisas em um dia, além de amamentar, de parir, de cuidar da roça, do marido, da casa… Elas ainda têm um tempo para varrer o quintal… Cadê o cansaço ? Onde está o cansaço?
Eu sinto essa carência dentro das pesquisas, carência de levar o mundo real, desse conhecimento que vem do convívio dentro do território. São muitos sonhos, de fato, e sonhos que são coletivos. Além de fazer os trabalhos que eu faço, eu realizo projetos com as mulheres; projetos de acervo, de cerâmica, tucum, roça, projetos ecológicos…tudo dentro de território. Se eu não fizer trabalhos e projetos voltados para as mulheres e para o território, eu me sinto muito inútil nesse contexto todo. Não é apenas vir estudar, mas também levar algo pra elas, pro território, desenvolver projetos, levar inovações. Eu me sinto nessa responsabilidade de não abandonar as comunidades de onde eu vim, de sonhar, de buscar parcerias. De levar alguém lá, de desenvolver uma oficina, sonhar junto com elas, porque esse é o meu papel de liderança, de mulher, de juventude.
Por que aqui tem muito suicídio e muita, muita bebida alcoólica? Porque não tem nada de projetos, de ações. Eu sou única? Sou mas, mesmo assim, eu estou fazendo uma diferença. Eu queria muito ter mais pessoas comigo nessa função do retorno. Eu não estou na academia só por mim… Eu poderia estar com esse pensamento: “Eu estou na academia, vou me formar, eu vou procurar um emprego e pronto”. Mas eu não me sinto completa se não der o retorno para essas mulheres. Elas são incríveis, são o pilar dentro dessa sabedoria. Então, além do sonho de levar essa sabedoria, sonho em dar algo concreto, trabalhar com elas, divulgar, fazer filmes, fazer exposição de fotografias delas na roça, trazer a visibilidade desses muitos afazeres, desse conhecimento imenso.
MR: Te ouvir é arrepiante, aquece o coração. Pelo menos eu estou com o peito quente.
ST: Eu estou emocionada, muito emocionada. Queria te dizer que pode contar conosco, comigo, em especial, também, para esse sonho ser realizado. Eu também trabalho com mulheres e também tenho esse sonho de que as mulheres geram abundância quando se conectam com a terra; geram abundância para suas famílias, para suas vidas. Mantê-las conectadas com a terra e potencializá-las é um sonho muito coletivo. Muito grata, Francy, por ativar o meu sonho e me manter com coração também esperançoso de que cada mulher que a gente ativa para a relação com a terra, a gente gera abundância para aquela família e para todo planeta também. Muito grata, Francy.
MR: A minha vontade era que a gente se juntasse agora pra fazer um peixe, fazer um almoço juntas, continuar conversando. Mas vamos ter que liberar a sala daqui a pouquinho, mesmo tendo muitas perguntas ainda. Eu tenho uma curiosidade de saber da sua aproximação com o Selvagem, como isso tem movimentado também questões no território. Seria bacana a gente saber um pouco dessa história do contato com a Dantes, a casa editorial que acolheu o seu livro, que teve essa honra.
Lançado em abril de 2023 pela Dantes Editora, Umbigo do Mundo apresenta narrativas Baniwa Waliperedakeenai escritas por Francy, narradas por seu pai, Francisco e ilustradas por seu irmão, Frank. | Foto: Mariana Rotili – Acervo Selvagem Ciclo de Estudos
FB: Esse contato aconteceu no início da pandemia, em 2020. Acho que foi em junho. Eu tinha um grupo de amigos que já conhecia o Selvagem. Quando a gente vem do território, a gente é muito sozinha. Você precisa conhecer espaços que possam te acolher… Esse grupo de amigos já tinha participado de alguma conversa, já conheciam a Anna Dantes. O Idjahure já conhecia também o Lucas, a Nana, o Pedro, a Carou, a Dani, um grupo de amigos que eu acabei conhecendo nessa época também. Em julho eles me disseram: “Você quer fazer parte do grupo de estudo? A gente está lendo um livro Desana, o livro Antes o mundo não existia e você poderia explicar pra gente o que aquela narrativa significa, porque você é do Rio Negro” e aí eu fui. Foi um mês de discussão; a gente lia, eu explicava, a gente ia para os Baniwa, voltava para os Desana e foi aí que a Anna soube que a gente estava fazendo isso.
E quando o Selvagem fez o ciclo de estudos sobre Antes do mundo não existia, a Anna convidou o Idjahure para mediar e ele me convidou também. Foi quando a gente pensou naqueles encontros com os Tukano sobre o livro, quando a gente convidou o João Paulo Lima Barreto, o Jaime Diakara, uns Tukano e a gente fez aquela mediação linda sobre esse livro.
Aí a gente acabou trocando essa ideia de que eu tinha acabado de defender a dissertação de mestrado; eu já estava no doutorado e surgiu essa conversa de “Por que não publicar a dissertação da Fran, que também faz parte das narrativas Baniwa?”. E depois eu conheci a Anna, a gente começou a trocar e eu fui muito acolhida, desde o primeiro momento, por esse grupo Selvagem, me senti muito dentro. É como se tivesse conhecido já há muito tempo. E eu vi que o Selvagem era do universo indígena, com pesquisas, publicações… A gente foi sonhando logo isso com a Anna dizendo: “Por que a gente não faz um lançamento assim na beira do fogo, a gente traz o seu pai…”. E aí eu falei que ele poderia vir, a gente poderia dançar, a gente poderia compartilhar…
E a gente foi sonhando esse momento desde o início, mas era um sonho que talvez fosse um pouquinho mais demorado, sabe? Mas, desde o primeiro momento, a gente já sabia que, mesmo na incerteza, seria um momento muito lindo de encontro, de reencontro com o Museu Nacional. O livro nascendo das cinzas, como resultado e trazendo meu pai para ver esse território indígena que era o Museu, onde estavam muitas peças indígenas. Eu sonhei mais com a presença do meu pai, aqui, junto com o meu irmão e com os parentes que pudessem trazer esses cantos, esses sons do Rio Negro para esse momento; não era nem tanto a minha presença, era mais presença do meu pai, aqui, nesse lugar.
O sonho de que Francy fala tomou forma e pode ser visitado na página do Ciclo Memórias Ancestrais e na reportagem especial feita pela Plataforma Sumaúma: Onde ficam os umbigos do mundo?
Francy Baniwa, André Baniwa e Francisco Fontes Baniwa no lançamento de ‘Umbigo do Mundo’ na Vigília da Oralidade no Museu Nacional – RJ – 15 de abril de 2023 | Fotos: Juliana Chalita – Acervo Selvagem Ciclo de Estudos
E hoje eu vejo o Selvagem e digo: “Caramba, que equipe incrível!”… Eu sempre falo para a Anna que o Selvagem é um centro de saberes diversos. É uma grande maloca de narrativas que foram já escritas, e que tem essa presença muito indígena nesses espaços.
É um grupo que já floriu e que já deu frutos, sabe? E os frutos são essas publicações. Elas percorrem dentro dos territórios, independente de qual povo é, elas percorrem e elas vão criando essas relações com outros mundos. Porque essas publicações não são coisas literárias, pesquisadas no acervo… Elas vêm de narrativas e estão dando esses frutos e espalhando essas informações, dando visibilidade para essas narrativas.
Eu vejo o Selvagem como uma inspiração para academia, assim como para outros espaços de produção de conhecimento. Acho que esse é o caminho de inovar, de pensar, de reconstruir, de dar espaço e vozes para indígenas, para povos diferentes. E o Selvagem dá essa visibilidade e a segurança de que ela é colorida, que nem os benzimentos, que nem o som de flautas cantadas; traz essa leveza da produção que só o Selvagem tem. Essa clareza toda de conversa, de diálogo, de rede que o Selvagem tem. Hoje eu vejo esse canal como um dos mais importantes.
Você não vê na academia toda essa sabedoria que nós temos nesse grupo. Com essa leveza, essa fortaleza mesmo da produção desse percurso da oralidade, da escrita e como ela vai ultrapassando os limites dessa produção, desse pensamento, desse diálogo que nós temos. A gente já se torna segunda porta voz, porque os primeiros são os nossos pais e é uma geração que vem do bisavô, do avô, do tataravô, do Ñapirikoli… E hoje a gente está conseguindo ver as produções dessas falas coletivas, essa potência toda de explicar a existência do mundo, da humanidade, que para tudo há uma explicação. E como é linda essa conexão dessas falas por esse grupo, de sonhar mais com cores, de sonhar mais com músicas, de sonhar mais… Dessa liberdade de se permitir viajar nessas narrativas.
Acho muito lindo o trabalho que o Selvagem vem construindo. E não é só aqui no Brasil, ele já é mundialmente conhecido. E acho que essa clareza do propósito desse grupo não foi imaginada, foi algo projetado, pensado, sonhado em coletivo e hoje está aí, florindo. Acho que a Anna tem essa mentalidade e a equipe que ela tem…Nossa, isso é surreal. Daqui a pouco está como uma universidade indígena com essas produções maravilhosas de falas que se tornam escritas e que, depois você vê, começa a ler e pensa: “Caramba, falei tudo isso?”. O pessoal deve ter essa mesma sensação, de que quando você abre a boca e fala, sai muita coisa bonita. Então, eu acho que a gente vai colorindo esse espaço, não só eu, mas muita gente. Acho que essa leveza é o significado da coletividade e dessas narrativas que vão colorindo esses espaços. É isso que eu falo sobre esse grupo Selvagem que está aí pra sacudir e dizer que tudo é possível, que esse é o caminho. Saber ouvir.
MR: Obrigada, Francy. E foi bonito que você foi falando do Selvagem e a Madá entrou, a Anna entrou, a Cris entrou na sala…A gente te agradece profundamente. Foi mais que lindo te ouvir.

Entrevista por: Andrei Brettas, Claudia Lima, Mariana Rotili, Roberto Straub, Soraia Nunes e Zih Zahara
Introdução: Andrei Brettas e Mariana Rotili
Editoração e fotografias: Mariana Rotili
•
•
•
~~~~~~~~ PARA APROFUNDAR MAIS ~~~~~~~~
Mitologia, Ritual e Memória Baniwa Waliperedakeenai
Autora: Francy Fontes Baniwa – Hipamaalhe
Narrador: Francisco Luiz Fontes Baniwa – Matsaape
Ilustrações: 70 pinturas de Frank Fontes Baniwa – Hipattairi
Preparação de texto: Idjahure Kadiwel
SOBRE O LIVRO:
“Umbigo do mundo é um acontecimento literário e antropológico que merece ser celebrado. Fruto “de uma conversa do narrador com sua filha mulher”, conforme as palavras da autora, Francisco e Francy nos conduzem por uma trilha cosmológica pelas paisagens do Noroeste Amazônico, convidando-nos a sintonizar a sensibilidade e a imaginação em entidades, bichos, plantas, lugares e acontecimentos de um tempo ancestral — e que continua a reverberar. O ciclo de vinganças entre eenonai e hekoapinai, os cantos e benzimentos, as ações e transformações de Ñapirikoli, Amaro, Kowai, Kaali e Dzooli, tudo isso compõe o quadro de uma verdadeira epopeia amazônica, pela voz dos Baniwa ou Medzeniakonai. Ao longo destas páginas, o multilinguismo da região se faz presente no modo como o nheengatu e o baniwa se trançam ao português, em doses, trazendo ao leitor uma amostra da complexidade da arte verbal dos narradores rio-negrinos. Umbigo do mundo, assim, é uma confluência entre diferentes rios de saberes, aproximando-se dos livros da constelação Narradores indígenas do Rio Negro a partir da transdisciplinaridade da constelação Selvagem, como um capítulo especial da florescente antropologia indígena. Com originalidade, Francy Baniwa alterna as vozes de narrador, de personagens e de etnógrafa, compartilhando, por meio de sua generosa e corajosa escrevivência, afetos e conhecimentos de seus parentes, do rio, da roça e da floresta. As ilustrações que acompanham o texto, do artista Frank Baniwa, irmão da autora, exprimem aquela modalidade da arte indígena contemporânea que tem registrado em cores e formas as ações e personagens de narrativas tradicionalmente orais, compondo uma singular obra verbo-visual, povoada de sensível intimidade com a mata e seus seres. Seguir este selvagem roteiro é como embarcar em uma floresta de mundos, ou como pôr lentes para mirar o mundo como floresta. Umbigo do mundo é a proclamação, desde o Alto Rio Negro, de que o centro do mundo se encontra mesmo na Amazônia, ou ainda, de que o centro está em toda parte, de todo modo, de que os formigueiros urbanos não são a exclusiva morada dos acontecimentos que atravessam a vida humana e mais que humana.”
Idjahure Kadiwel
SOBRE FRANCY BANIWA:
Francineia Bitencourt Fontes (Francy Baniwa) é mulher indígena, antropóloga, fotógrafa e pesquisadora do povo Baniwa, clã Waliperedakeenai, nascida na comunidade de Assunção, no Baixo Rio Içana, na Terra Indígena Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira/AM. Engajada nas organizações e no movimento indígena do Rio Negro há uma década, atua, trabalha e pesquisa nas áreas de etnologia indígena, gênero, organizações indígenas, conhecimento tradicional, memória, narrativa, fotografia e audiovisual.
É graduada em Licenciatura em Sociologia (2016) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). É mestra (2019) e doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS-MN/UFRJ). É pesquisadora do Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória (LARMe) e do Núcleo de Antropologia Simétrica (NAnSi) da UFRJ, e do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena (NEAI) da UFAM.
Foi coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (DMIRN/FOIRN) entre 2014 e 2016. Coordenou o Projeto de Cooperação Técnica Internacional “Salvaguarda de Línguas Indígenas Transfronteiriças”, produzido entre uma parceria UNESCO-Museu do Índio, intitulado “Vida e Arte das Mulheres Baniwa: Um olhar de dentro para fora” entre 2019 e 2020; e que prossegue em 2023 para catalogar e qualificar as peças do primeiro acervo indígena da instituição, editar um catálogo de fotografia, produzir uma exposição virtual e finalizar a produção de 3 documentários, sobre cerâmica, tucum e roça. É diretora do documentário ‘Kupixá asui peé itá — A roça e seus caminhos’, de 2020.
Atualmente coordena o projeto ecológico pioneiro de produção de absorventes de pano Amaronai Itá – Kunhaitá Kitiwara, financiado pelo Fundo Indígena do Rio Negro (FIRN/FOIRN), pelo empoderamento e dignidade menstrual das mulheres do território indígena alto-rio-negrino.
• FILMES
Filme 1 – MEMÓRIAS ANCESTRAIS – Vigília da Oralidade
A memória do mundo é construída por muitas vozes, partindo de muitos pontos diferentes. Quando nos reunimos para falar e ouvir sobre a origem do mundo, uma porta se abre e tudo nasce outra vez. O filme inaugura o ciclo Memórias Ancestrais, composto de 16 narrativas registradas durante a Vigília da Oralidade.
FILME 3 – MEMÓRIAS ANCESTRAIS – Umbigo do Mundo – Francy Baniwa
Neste terceiro filme do ciclo Memórias Ancestrais, Francy Baniwa, Francisco Fontes Baniwa, André Baniwa e Idjahure Kadiwel nos conduzem por uma trilha cosmológica pelas paisagens do Noroeste Amazônico, convidando-nos a sintonizar a sensibilidade e a imaginação em entidades, bichos, plantas, lugares e acontecimentos de um tempo ancestral.
• CADERNOS SELVAGEM
QUAL A PALAVRA QUE NUNCA FOI DITA, DIGA (sobre “Umbigo do Mundo” de Francy Baniwa)
Tânia Stolze Lima
O MUNDO ESTÁ SENDO PARIDO O TEMPO INTEIRO
Ailton Krenak , Álvaro Tukano , Daiara Tukano , Francy Fontes e Idjahure Kadiwel
Ciclo ANTES O MUNDO NÃO EXISTIA 4/4
• ENTREVISTA
Estação Sabiá – Líder indígena Francy Baniwa fala do seu livro “Umbigo do mundo” (09.05.23)
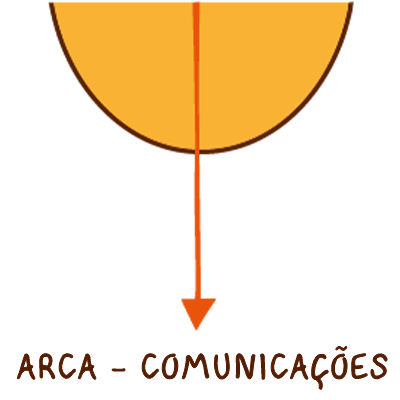










2 Comentários